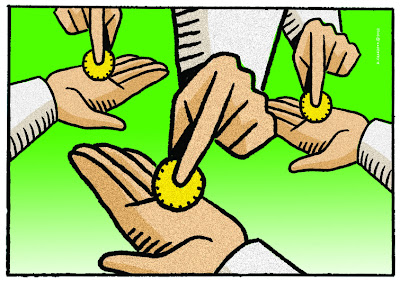sexta-feira, 28 de setembro de 2012
Gestão de capital: fronteira do sistema bancário eficiente
Por Marcio Percival A. Pinto e Raphael Rezende Neto - Valor 28/09
,
A continuidade da crise mundial eclodida em 2008 trouxe à luz do grande público o papel fundamental que o sistema bancário exerce nas economias modernas. Países cujos bancos foram mais duramente atingidos pela crise estão encontrando maiores dificuldades para sustentar níveis adequados de consumo, investimento e emprego em patamares aceitáveis pela sociedade. Já os países que apresentam bancos em condição de prover crédito têm conseguido dispor de um instrumento adicional para amenizar os efeitos da crise mundial sobre a economia doméstica. Felizmente, o Brasil encontra-se no segundo grupo.
De fato, nossa regulamentação e supervisão bancária conduzida pelo Banco Central combinada a uma gestão bancária aperfeiçoada em décadas de alta inflação e instabilidade macroeconômica produziram instituições financeiras nacionais mais sólidas e mais competitivas. Além disso, o Estado é controlador de importantes instituições bancárias, tais como Caixa, Banco do Brasil e BNDES, que têm demonstrado nos últimos anos avanços significativos em sua governança corporativa ampliando a competência para expandir de maneira responsável o mercado de crédito do país. No caso, Caixa e Banco do Brasil, estabeleceram um padrão de competição capaz de reduzir as taxas de juros e de serviços bancários cobrados - algo há muito demandado pela sociedade brasileira.
Um aspecto que começa a emergir envolve o grau de alavancagem dos bancos brasileiros e, por conseguinte, o chamado índice da Basileia. Esse índice representa a relação entre o patrimônio existente e a necessidade de capital calculada em função das exposições da instituição bancária. No Brasil, o BC estipulou o índice mínimo em 11%, três pontos percentuais acima do exigido na maior parte dos países desenvolvidos, onde o índice mínimo é de 8%. A exigência de um percentual mínimo de capital converge para a essência da atividade bancária: instituições que atuam no setor devem manter recursos próprios suficientes para fazer frente aos riscos assumidos no exercício da atividade de intermediação financeira, necessidade essa traduzida no índice da Basileia.
Quanto maior o índice da Basileia de uma instituição financeira melhor? Ao se analisar os números historicamente observados no Brasil pode-se concluir que sim. Afinal, se temos um sistema bancário sólido, podemos inferir que um dos motivos para isso foi o baixo grau de alavancagem tradicionalmente observado entre os bancos brasileiros.
Mas outra interpretação também é possível. Um reduzido grau de alavancagem significa que os bancos, por muito tempo, focaram grande parte de sua atuação na administração das respectivas carteiras de tesouraria, carregadas de títulos públicos. Portanto, é preciso reconhecer que apenas nos últimos anos os bancos passaram a ter uma ênfase maior no negócio de crédito, particularmente a partir da queda da Selic. Assim, se queremos caminhar para um sistema bancário capaz de cumprir sua função precípua de ofertar crédito, não necessariamente pode-se concluir que a solidez de uma instituição se pauta apenas num elevado índice de Basileia.
Nesse contexto, a gestão eficiente do capital se torna ainda mais relevante. Um banco precisa necessariamente manter capital suficiente para fazer frente aos riscos assumidos, relação esta representada pelo índice de 11% exigido pelo regulador no Brasil. Mas manter um índice de Basileia elevado, muito acima do exigido, pode denotar uso pouco eficiente dos recursos dos acionistas, já que há um emprego de capital maior do que o necessário para manter as atividades da instituição.
Com a instituição possuindo um sistema de gestão de risco inteligente, pois capaz de identificar, mensurar, administrar e mitigar os riscos assumidos nas diversas atividades exercidas, considerando inclusive cenários de forte deterioração da economia (os denominados cenários de estresse), o próximo passo que seus gestores devem adotar é exatamente buscar a maior eficiência possível na avaliação e alocação de capital da instituição.
Logo, a análise comparativa entre as instituições financeiras não pode ser feita meramente observando o índice de Basileia, ou a alavancagem a partir da relação entre patrimônio líquido com os ativos, pois não se enxerga o todo. A comparação direta do índice de Basileia (no qual se considera que maior é sinônimo de melhor) não captura o grau de maturidade do processo de gestão de capital da instituição e a busca pela eficiência na aplicação de recursos limitados, assim como a simples análise da alavancagem não leva em consideração a estrutura de ativos.
A estrutura de administração de risco e de capital da Caixa, inclusive por ser ela uma instituição 100% pública, está pautada pelo comprometimento de todos os seus gestores, de forma que cada atividade tenha a menor exposição a risco possível, representando menor necessidade de alocação de capital e, dessa forma, impactando equação risco e retorno presente na essência do índice de Basileia. Essa postura tem resultado num patamar adequado de rentabilidade ao controlador, medido por um retorno sobre patrimônio de 28,4% em junho de 2012, aliado a oferta das melhores condições de preço e serviços para os clientes. Isso tem permitido à Caixa ampliar, desde 2008, sua participação no mercado de crédito em mais de sete pontos percentuais mantendo níveis decrescentes de inadimplência.
Por fim, a gestão eficiente se torna imprescindível para a sobrevivência de qualquer instituição financeira. O capital deve ser suficiente para cobrir os riscos assumidos, os modelos gerenciais de capital devem buscar uma otimização das exposições tomadas e ao mesmo tempo expandir as operações e as atividades considerando um horizonte de tempo de pelo menos três anos.
Marcio Percival Alves Pinto é vice presidente de Finanças e Mercado de Capitais da Caixa Econômica Federal
Raphael Rezende Neto é vice presidente de Controladoria e Risco da Caixa Econômica Federal
As chaves da prosperidade nacional
Por Jeffrey D. Sachs - Valor 28/09
Em várias das reformas econômicas mais bem-sucedidas da história, países de bom senso aprenderam com as políticas de sucesso de outros e as adaptaram às condições locais. Na longa história do desenvolvimento econômico, a Grã-Bretanha do século XVIII aprendeu com a Holanda; a Prússia do início do século XIX aprendeu com a Grã-Bretanha e a França; o Japão da era Meiji de meados do século XIX aprendeu com a Alemanha; a Europa pós-Segunda Guerra Mundial aprendeu com os Estados Unidos; e a China de Deng Xiaoping aprendeu com o Japão.
Com processos de empréstimos institucionais e adaptação criativa, instituições econômicas bem-sucedidas e tecnologias de vanguarda se espalharam pelo mundo e, dessa forma, impulsionaram o crescimento mundial.
Por exemplo, enquanto muitos países se deparam com a falta de empregos, uma parte do mundo capitalista vai bem: o norte da Europa, incluindo a Alemanha, a Holanda e a Escandinávia. O índice de desemprego da Alemanha1 neste verão europeu girou em torno a 5,5%, sendo que a desocupação entre os mais jovens rondou os 8% - números extraordinariamente baixos em comparação com outras economias de alta renda.
Como os europeus do norte conseguem isso? Todos se valem de políticas ativas no mercado de trabalho, incluindo horários flexíveis, estágios de aprendizado da "escola-ao-trabalho" (especialmente na Alemanha) e amplos programas de treinamento profissional.
Diante das crises orçamentárias crônicas, Alemanha, Suécia e Suíça exibem orçamentos quase equilibrados. Os três apoiam-se em regras orçamentárias que preveem um equilíbrio com ajustes baseados nos ciclos econômicos. E tomaram a precaução de manter sob controle seus gastos com benefícios sociais: a idade mínima de aposentadoria é de 65 anos. Isso mantém seus custos bem inferiores aos da França e Grécia, por exemplo.
Em tempos marcados por aumentos nos custos com assistência médica, a maioria dos países de alta renda - Canadá, as economias da União Europeia Ocidental e o Japão - consegue manter seus custos totais 2 na área abaixo de 12% do Produto Interno Bruto (PIB), com excelentes resultados no sistema de saúde, enquanto os Estados Unidos gastam cerca de 18% do PIB, mas com resultados definitivamente medíocres. Um novo estudo 3 do Instituto de Medicina dos EUA (IOM, na sigla em inglês) revela que o sistema com fins lucrativos do país gasta cerca de US$ 750 bilhões, 5% do PIB, em fraudes, desperdícios, duplicação e burocracia.
Mesmo com a disparada dos preços do petróleo, poucos países fizeram mudanças na eficiência energética. Os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), usam em média uma energia equivalente a 160 quilos de petróleo para cada US$ 1 mil de PIB (medido pela paridade de poder de compra) 4, sendo que na Dinamarca o número é de apenas 110 quilos, em comparação aos 190 quilos verificados nos EUA.
Com as mudanças climáticas, vários países mostram como passar a uma economia de baixa emissão de gás carbônico. Em média, os países ricos emitem 2,3 quilos de gás carbônico 5 por quilo de unidade de energia equivalente a petróleo. A França, porém, emite apenas 1,4 quilo, graças a seu grande sucesso no uso de energia nuclear segura e de baixo custo.
A Suécia, com sua energia hidrelétrica, emite ainda menos, 0,9 quilo. E, embora a Alemanha esteja abandonando a produção doméstica de energia nuclear por motivos políticos, podemos apostar que ainda assim vai continuar a importar eletricidade das instalações nucleares francesas.
Em tempos de intensa concorrência tecnológica, os países que combinam financiamento público e privado na pesquisa e desenvolvimento superam os demais. Os EUA continuam a sobressair-se, com grandes avanços recentes na exploração de Marte e na genômica, embora cortes orçamentários agora coloquem essa posição de destaque em risco. Paralelamente, Suécia e Coreia do Sul agora se destacam economicamente graças a gastos em pesquisa e desenvolvimento em torno a 3,5% do PIB 6, enquanto em Israel a relação alcança notáveis 4,7% do PIB.
Em tempos de crescente desigualdade, alguns países encolheram suas diferenças de renda e riqueza. O Brasil é o recente líder, tendo ampliado a educação pública e combatido de forma sistemática os bolsões de pobreza remanescentes com programas específicos de transferência. Como resultado, a desigualdade no Brasil está em queda.
E, em tempos de ansiedade generalizada, o Butão faz questões profundas sobre o próprio significado e natureza da felicidade. Em busca de uma sociedade mais equilibrada, que combine prosperidade econômica, coesão social e sustentabilidade ambiental, o Butão ganhou notoriedade por buscar a Felicidade Interna Bruta (FIB) 7 em vez do Produto Interno Bruto. Muitos outros países, incluindo o Reino Unido, agora seguem a liderança do Butão e pesquisam a satisfação de vida de seus cidadãos.
Os países que estão no topo das classificações de satisfação de vida são Dinamarca, Finlândia e Noruega. A tropical Costa Rica também está no topo da liga da felicidade. O que podemos dizer é que todos os países mais felizes enfatizam a igualdade, solidariedade, prestação de contas democrática, sustentabilidade ambiental e instituições públicas sólidas.
Aqui está, então, uma economia-modelo: as políticas trabalhistas alemãs, a previdência social sueca, a energia de baixa emissão de gás carbônico francesa, a assistência médica canadense, a eficiência energética suíça, a curiosidade científica americana, os programas antipobreza brasileiros e a felicidade tropical costarriquenha.
Naturalmente, no mundo real, a maioria dos países não conseguirá isso tão cedo. Mas, se abrirmos os olhos para as políticas bem-sucedidas no exterior, certamente aceleraremos o ritmo dos avanços nacionais em países por todo o mundo. (Tradução de Sabino Ahumada)
1 www.oecd.org/std/labourstatistics/HURNR09e12.pdf
2 data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS
3 iom.edu/Reports/2012/Best-Care-at-Lower-Cost -The-Path-to-Continuously-Learning-Health-Care-in-America.aspx
4 mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=648
5 data.worldbank.org/ indicator/EN.ATM.CO2E. EG.ZS
6 data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
7 www.grossnationalhappiness.com/wp-content/uploads/2012/04/Short-GNH-Index-edited.pdf
Jeffrey D. Sachs é professor de economia e diretor do Instituto Terra, da Columbia University. É também assessor especial do secretário-geral das Nações Unidas no tema das Metas de Desenvolvimento do Milênio. Copyright: Project Syndicate, 2012.
www.project-syndicate.org
quinta-feira, 27 de setembro de 2012
Bancos resistem em baixar juros dos cartões
Bancos querem acabar com o parcelamento sem juros, nas compras com cartão, como compensação pela perda de receita provoca pela redução dos juros no crédito rotativo
Valor 27/09
O governo não vai permitir que os bancos cobrem taxa extra dos lojistas nas vendas com parcelamento sem juros para usuários de cartão de crédito. A equipe econômica teme que qualquer restrição ao parcelamento afete negativamente o consumo das famílias no momento em que a economia começa a dar sinais de recuperação. Os técnicos entendem que a cobrança de taxa extra pode desestimular as compras, principalmente, de bens duráveis, passagens aéreas e pacotes turísticos.
Os bancos alegam que o parcelamento é uma das principais razões da cobrança de juros elevados no crédito rotativo, forma de crédito usada pelos usuários de cartões que não conseguem pagar o total da fatura no vencimento ou que ficam inadimplentes. Nas últimas semanas, o governo forçou, por meio dos bancos estatais - Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil -, a queda dos juros do crédito rotativo.
As taxas caíram de forma acentuada, embora continuem bastante elevadas. No caso do Bradesco, por exemplo, o juro máximo do crédito rotativo caiu de 14% para 6,9% ao mês. No Itaú, a taxa máxima recuou para 9,9% e no HSBC para 15,95% ao mês, a maior dos grandes bancos. No BB, a mesma taxa desceu a 5,7% ao mês e, na Caixa, para 5,65%.
Alguns bancos querem acabar com o parcelamento sem juros, nas compras com cartão, como compensação pela perda de receita provoca pela redução dos juros no crédito rotativo. Não há consenso, porém, entre quatro dos maiores bancos do país (Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil) quanto à cobrança de uma taxa extra dos lojistas. O Itaú defende a medida, mas o Bradesco e o BB não gostam da ideia.
Os bancos vinham negociando com o Ministério da Fazenda medidas para reduzir os juros cobrados nos cartões de crédito, os mais altos do mercado. A ideia era acabar com o parcelamento sem juros de forma gradual, mas alguns bancos, motivados pela perda de receita provocada pela queda dos spreads bancários, querem fazer a mudança de forma rápida.
O parcelamento sem juros das compras com cartão é apontado por algumas instituições como um dos motivos do encarecimento do crédito rotativo no país. O parcelamento é oferecido aos consumidores pelo lojista. Alguns comerciantes embutem um custo financeiro no valor do produto e oferecem a venda parcelada, "sem juros", com preço idêntico ao valor à vista. O consumidor paga, na maioria dos casos sem saber, os juros embutidos na compra parcelada.
O lojista se apropria do ganho financeiro, mas o risco do crédito fica com o banco emissor do cartão. Por isso, os bancos aumentam a taxa do crédito rotativo para compensar o risco envolvido nas operações - há lojistas que oferecem prestações, "sem juros", em mais de dez vezes.
A venda parcelada sem juros com cartão foi a forma encontrada pelos lojistas para substituir os cheques pré-datados, que, durante o período de inflação crônica no Brasil, funcionaram como um mecanismo de venda a prazo. Os bancos, por sua vez, se beneficiaram da drástica queda do uso de cheques pré-datados porque estes embutem custo administrativo elevado.
"A vantagem da venda parcelada com cartão 'sem juros' acabou com o cheque pré-datado", atesta o executivo de um grande banco.
Nas conversas com o governo, os grandes bancos começaram a apresentar alternativas, embora nada tenha sido decidido - a interlocução do Ministério da Fazenda hoje em dia é com os quatro maiores bancos e não mais com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O plano era acabar gradualmente com o parcelamento "sem juros", mudar a cultura do financiamento a prazo e, aproveitando o fato de que os spreads bancários estão em queda, reduzir o custo do rotativo e introduzir o crédito bancário como alternativa aos cartões nas compras a prazo.
O governo deixou claro, no contato com os bancos, que não aceitaria o fim abrupto das vendas parceladas com cartão. A preocupação é com a recuperação da atividade econômica.
Alguns bancos sustentam que não se pode atribuir todo o custo do crédito rotativo ao parcelamento sem juros. Há outros custos, como fraude, inadimplência e despesas administrativas, concorrendo para tornar essa forma de crédito a mais cara do mercado.
Energia - Inadimplência dispara e trava mercado
Por Rodrigo Polito - Valor 27/09
Do Rio
O aumento da inadimplência está afetando as negociações no mercado livre de energia elétrica. Tradicionalmente na faixa de 1% a 2%, o índice de inadimplência disparou nos últimos três meses e atingiu 13,83%, na última liquidação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), referente a julho, totalizando um prejuízo de R$ 73 milhões rateado por todos os agentes que tinham contas a receber.
Segundo agentes ouvidos pelo Valor, a inadimplência cresceu porque algumas empresas não estão honrando os seus contratos de fornecimento de energia. Elas estão entregando volume físico inferior ao previsto e não estão comprando energia adicional para lastrear o contrato.
Devido ao cenário ruim, pela primeira vez desde o início de 2009 (no auge da crise econômica mundial), as comercializadoras negociaram na semana passada ágios negativos nos contratos de energia no curto prazo. As negociações, que normalmente ficam na faixa de R$ 10 a R$ 20 por megawatt-hora (MWh) acima do PLD (preço de liquidação de diferenças, ou preço do mercado de curto prazo), foram fechadas na última semana a PLD menos R$ 2 o MWh.
Na prática, isso significa que as comercializadoras preferem fechar contratos bilaterais com prêmios negativos, abrindo mão de parte da receita, a ficarem com excedentes de energia na CCEE. Pelas regras do setor, todas as empresas com crédito aberto no momento da liquidação assumem o prejuízo da inadimplência na câmara.
"É uma reação contra-intuitiva, porque não segue a lógica da oferta e da demanda. O certo é comprar mais barato e vender mais caro", disse o presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), Reginaldo Medeiros.
Outra reação à inadimplência é a mudança do tipo de contratação de energia. Segundo o diretor-presidente da plataforma eletrônica de comercialização Brix, Marcelo Mello, normalmente 70% das negociações no mercado de curto prazo para o mês seguinte são feitas a PLD mais um prêmio. Os outros 30% são comercializados a um preço fixo (semelhante aos contratos de longo prazo). Agora essa relação se inverteu, indicando que as comercializadoras estão buscando contratos mais seguros, porém menos lucrativos.
A perspectiva para os próximos meses também não é boa. Algumas empresas preveem que a inadimplência continuará elevada. "A inadimplência deverá ser superior na liquidação de agosto. Uma comercializadora foi desligada da câmara nesse período. Vamos saber o efeito disso esta semana ou depois", afirmou o diretor da comercializadora Safira Energia, Mikio Kawai Jr.
Em agosto, a CCEE desligou do mercado a Deck Comercializadora por inadimplência. Foi a segunda empresa "expulsa" do mercado apenas neste ano. Também está em processo de desligamento a Companhia Técnica de Comercialização de Energia (CTCE), do Grupo Rede. O processo está em trâmite na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e poderá ser julgado pela diretoria do órgão já na próxima reunião ordinária, na terça-feira.
Para o diretor-presidente da Brix, porém, o mercado começa a dar sinais de melhoras. Nesta semana, a plataforma indicou que foram negociados prêmios de R$ 2 a R$ 3 por megawatt-hora acima do preço "spot" de energia. "Houve um certo ajuste dos ânimos", ressaltou o executivo.
O presidente do Conselho de Administração da CCEE, Luiz Eduardo Barata, disse que o índice de inadimplência refere-se "não somente ao mercado livre, e sim ao mercado de energia elétrica como um todo, já que a contabilização das operações é integrada, abrangendo os dois ambientes de comercialização, o livre e o regulado".
Segundo ele, a câmara vai implantar um novo modelo de aporte de garantias financeiras, aumentar o monitoramento do mercado e agilizar o desligamento de agentes inadimplentes.
O novo sistema de garantias financeiras está em audiência pública na Aneel. A proposta em discussão prevê que cada agente apresente uma instituição financeira para garantir suas operações. O banco será responsável pela avaliação do risco de calote da empresa e pela quitação de eventuais débitos do agente.
"Num primeiro momento, a medida vai tornar o risco bilateral. Depois vai evoluir para um sistema mais adequado para o mercado de energia", ressaltou Medeiros. Sem arriscar um prazo, o executivo disse que espera que o modelo seja implantado "o mais
O reequilíbrio da China
Por Yu Yongding - Valor 27/09
O 12º Plano Quinquenal da China prevê mudanças no modelo econômico do país, deixando de baseá-lo no crescimento puxado pelas exportações para torná-lo mais dependente da demanda doméstica, especialmente do consumo das famílias. Desde a introdução do plano, o superávit em conta corrente da China em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu. Será que isso significa que o ajuste da China está bem encaminhado?
De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a queda na relação entre superávit em conta corrente e PIB deve-se em grande medida ao nível de investimento muito alto, ao cenário econômico mundial debilitado e a um ritmo de aumento de preço das commodities importadas superior ao dos bens industrializados chineses. Portanto, o declínio no quociente superávit externo e PIB da China não representa um "reequilíbrio" externo; ao contrário, o FMI prevê que a razão aumentará em 2013, para depois chegar ao mesmo nível pré-crise.
A explicação do FMI sobre a recente diminuição da relação entre superávit em conta corrente e PIB da China, em termos gerais, é correta. A experiência indica que a posição externa da China é altamente sensível às condições mundiais, com a razão superávit e PIB subindo nos ciclos de expansão econômica mundial e caindo nos maus momentos. As mazelas europeias atingiram duramente as exportações da China e, sem dúvida, são o fator mais importante por trás do declínio nesse quociente.
Por definição, sem alterar o descompasso da poupança, não haverá mudança no superávit comercial e vice-versa. Além disso, a poupança e a balança comercial interagem constantemente, o que os deixa sempre equivalentes. Em resposta à crise financeira mundial em 2008, a China lançou um pacote de estímulos econômicos de 4 trilhões de yuans (US$ 634 bilhões). Embora o aumento nos investimentos tenha reduzido a relação entre poupança e PIB, o crescimento resultante das importações reduziu a razão superávit comercial e PIB. Como resultado, a relação superávit externo e PIB caiu de forma significativa em 2009.
Em 2010, o governo da China ajustou sua política econômica. Para controlar a inflação e a formação de uma bolha no setor imobiliário, o Banco do Povo da China apertou a política monetária e o governo absteve-se de lançar outra rodada de estímulos fiscais. O investimento no setor imobiliário da China representou 10% do PIB, de forma que a desaceleração dos investimentos nessa área necessariamente reduz a demanda por importações, direta e indiretamente. Como a desaceleração do crescimento das importações ainda não se consolidou, enquanto as exportações para a Europa despencaram, o superávit da China em conta corrente recuou em relação ao PIB em 2011.
É provável que essa situação mude em 2012. O impacto negativo do declínio nos investimentos imobiliários visto desde 2010 foi mais longo e profundo do que se previa; de fato, quase todas as categorias de importação que mostraram declínios de 10% ou mais em agosto estavam ligadas aos investimentos imobiliários. Como resultado, é possível que a queda no crescimento dos investimentos reverta a tendência de declínio no superávit externo e PIB em 2012, a menos que a economia mundial se deteriore ainda mais e/ou o governo chinês lance um novo pacote de estímulo.
Ainda mais importante, talvez, a China agora precise exportar mais bens manufaturados para financiar as exportações de produtos minerais e energéticos. A piora nos termos de comércio vem sendo um fator importante para o declínio do superávit em conta corrente dos últimos anos.
Ainda assim, apesar dos méritos de sua análise, o FMI subestima o progresso da China em seu reequilíbrio. Em minha opinião, o reequilíbrio da China é mais genuíno - e mais estrutural - do que o FMI admite, com o que a previsão de recuperação da razão superávit externo e PIB em algum momento muito provavelmente se revelará errada.
Em primeiro lugar, a valorização real do câmbio de aproximadamente 30% desde 2005 necessariamente teve impacto sério sobre os exportadores, o que se reflete nas falências - assim como na modernização - de muitas empresas nas regiões costeiras. Embora a participação de mercado das exportações chinesas pareça ter se mantido bastante bem, isso pode ser atribuído a cortes de preços nos mercados externos, o que não é sustentável. Com o tempo, a valorização real do câmbio vai provocar uma mudança nos gastos, tornando mais visível o reequilíbrio da China.
Segundo, o nível dos salários na China vem subindo rapidamente. De acordo com o 12º Plano Quinquenal, o salário mínimo deverá crescer 13% por ano.
O aumento dos custos trabalhistas, somado à valorização real da moeda, enfraquecerá a competitividade do setor exportador chinês, que usa mão de obra intensiva, o que será refletido na balança comercial mais claramente nos próximos anos.
Terceiro, a China obteve progressos significativos no desenvolvimento de seu sistema de seguridade social. O número de pessoas cobertas por seguros básicos para idosos, desempregados, trabalhadores que se lesionam em serviço e grávidas cresceu de forma substancial. Além disso, está emergindo na China um seguro médico universal e foi estabelecido um sistema abrangente de auxílio a estudantes de famílias mais pobres. Como resultado, a motivação para acumular uma poupança preventiva foi um pouco enfraquecida, enquanto alguns analistas veem evidências de que o consumo está em alta, o que é corroborado pela ascensão da China como quarto maior importador mundial de bens de luxo.
Por fim, a piora nos termos de comércio da China vai desempenhar um papel ainda mais fundamental na redução de seu superávit comercial no futuro. Tendo em vista a fraca demanda, que pode ser duradoura, os exportadores chineses precisam aceitar margens de lucro cada vez mais estreitas para manter a participação de mercado. O tamanho da China e a baixa renda per capita e estoque de capital, no entanto, indicam continuidade no alto crescimento de sua demanda por commodities. Em função das limitações de oferta, a conta da China com importações de metais e outras commodities deverá enfraquecer seu superávit comercial no futuro próximo.
Em resumo, enquanto o governo da China não ficar preocupado com a desaceleração do crescimento da produção a ponto de mudar sua atual política, é mais provável que o superávit em conta corrente caia em relação ao PIB do que se recupere em 2013 e nos anos seguintes. Na realidade, tal desenlace não é apenas mais provável, também é mais desejável. Afinal, diante do "afrouxamento quantitativo ilimitado", ser um grande credor líquido significa estar na pior posição no cenário econômico atual. (Tradução de Sabino Ahumada)
Yu Yongding ex-presidente da Sociedade Chinesa de Economia Mundial e ex-diretor do Instituto de Economia e Política Mundial, da Academia Chinesa de Ciências. Também foi membro do comitê de política monetária do Banco do Povo da China e membro da Comissão Nacional de Assessoria do 11º Plano Quinquenal da China. Copyright: Project Syndicate, 2012.
www.project-syndicate.org
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
Saída é uma opção para a Alemanha
Por Martin Wolf - Valor 26/09
Será que a Alemanha deveria sair do euro? Trata-se, afinal de contas, de um país grande com uma clara opção de saída. A questão torna-se mais pertinente depois da decisão da primeira-ministra conservadora alemã, Angela Merkel, de apoiar Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), contra Jens Weidmann, seu indicado para chefiar o Bundesbank, autoridade monetária do país, quanto aos planos de comprar bônus de governos em dificuldade. O presidente do Bundesbank, instituição mais respeitada da Alemanha, agora se tornou porta-voz dos "eurocéticos" conservadores alemães. O BCE, perceberam os alemães, não será a reencarnação do Bundesbank. Mais uma vez, somos lembrados de que a região do euro caminha para se tornar um terrível casamento. Será que seria melhor uma separação, mesmo tempestuosa?
Para responder a essa questão a partir do ponto de vista alemão, precisamos distinguir os argumentos falsos dos válidos. Como o economista belga Paul De Grauwe, hoje na London School of Economics, mostrou, é fácil encontrar exemplos de argumentos falsos *.
O estudo pergunta se o acúmulo de um volume líquido de créditos a receber no balanço do Sistema Europeu de Bancos Centrais significa que a Alemanha poderia perder muito, caso a região do euro se desmembrasse. Sua resposta é "não".
Em primeiro lugar, a Alemanha acumulou um volume líquido de créditos a receber com o resto do mundo porque tem grandes superávits em conta corrente, não pela contabilidade interna dos bancos centrais. Os alemães vêm administrando dois negócios: exportar bens, algo em que são excelentes, e importar créditos financeiros a receber, no que não são. Em resumo, os superávits da Alemanha expuseram os alemães a riscos financeiros. Os balanços financeiros dentro do sistema do euro, no entanto, não são um bom indicador desse risco. Eles explodiram, sustenta o estudo, em consequência dos fluxos financeiros especulativos, não por desequilíbrios em conta corrente.
Esses fluxos não alteram os créditos a receber entre fronteiras. Suponha-se que os donos de uma conta bancária na Espanha fossem transferir seu dinheiro para um banco alemão. Dentro do sistema do euro, isso aumentaria o passivo no Banco da Espanha, autoridade monetária do país, e os ativos do Bundesbank. Ao mesmo tempo, o banco alemão teria um passivo com os depositantes espanhóis e uma posição de reserva no Bundesbank. A posição líquida da Alemanha ficaria inalterada. Os créditos líquidos a receber do Bundesbank, no entanto, aumentariam, enquanto os do setor privado alemão encolheriam.
Em segundo lugar, isso não expõe o contribuinte alemão a grandes perdas. O valor dos passivos no Bundesbank não depende do valor de seus ativos. O valor do dinheiro depende de seu poder de compra. Os bancos centrais podem criar dinheiro a partir do nada. O que dá valor ao dinheiro não é o lastro, mas o fato de as pessoas estarem dispostas a honrar compromissos, em troca disso, de o Estado estar disposto a cumprir suas responsabilidades tributárias.
O perigo para a Alemanha, no caso de ruptura da região do euro, é que poderia haver demasiada moeda alemã como resultado dos esforços de não residentes em converter suas moedas à nova moeda. O Bundesbank poderia evitar isso, contudo, restringindo a troca apenas aos residentes na Alemanha. As perdas, então, recairiam sobre os residentes dos países com novas moedas cujo valor despencaria.
Aceito os argumentos do professor De Grauwe. Mas poderíamos virá-los de ponta-cabeça. Se os alemães acumularam créditos a receber sem valor, por meio de seus imensos superávits em conta corrente, poderiam ter se saído melhor sem esses superávits. Da mesma forma, o fato de que a Alemanha poderia sair, sem sofrer parte dos problemas que as pessoas temem, torna a saída uma opção viável.
Charles Dumas, do Lombard Street Research, de Londres, aliás, argumenta que fazer parte da união monetária encorajou a Alemanha a seguir uma dispendiosa estratégia mercantilista à custa de sua população e da produtividade da economia. Destaca ainda que a renda pessoal disponível real da Alemanha subiu extraordinariamente pouco desde 1998. O mesmo vale para o consumo real. A produtividade por hora também cresceu mais lentamente na Alemanha do que no Reino Unido ou Estados Unidos entre 1999 e 2011, talvez porque fazer parte do euro tenha protegido as empresas do impacto de uma moeda forte. Os salários reais estagnados, o aperto fiscal e as taxas de juros reais relativamente altas limitaram fortemente a demanda. Agora, contudo, a cura necessária para os males da região do euro vai impor à Alemanha uma inflação mais alta, algo que os alemães vão detestar; vai impor longas recessões deflacionárias em importantes países da região do euro; e vai impor transferências contínuas de recursos oficiais para seus membros.
Tudo isso garante que nem os ganhos políticos nem os econômicos decorrentes de integrar a região do euro sejam o que as autoridades alemãs gostariam. Ainda pior, agora teremos pela frente anos de conflito com os pacotes de auxílio financeiro, reestruturações de dívidas, reformas estruturais e ajustes impopulares na competitividade. Talvez, um divórcio doloroso realmente seria melhor do que isso.
Dumas acredita nisso. Argumenta que voltar a um marco alemão com tendência de valorização iria comprimir os lucros, elevar a produtividade e aumentar a renda real do consumidor. Em vez de emprestar o superávit da poupança para estrangeiros perdulários, os alemães poderiam gozar de um melhor padrão de vida em casa. Além disso, isso iria gerar um rápido ajuste na competitividade dos países da região do euro, que de outra forma ocorreria de forma demasiado lenta, via inflação alta na Alemanha e desemprego alto nos países-membros.
As análises do professor De Grauwe e Dumas convergem em um ponto significativo. Se a Alemanha continuar a ter grandes superávits em conta corrente, terá de continuar a acumular grandes créditos a receber dos estrangeiros. Se a experiência vale de guia, grande parte disso se mostrará um desperdício. O professor De Grauwe está certo ao dizer que o acúmulo de créditos a receber dentro do sistema do euro não é o perigo por si só. O perigo é que a estratégia de supressão do salário real e de superávits externos nas alturas seja um custoso beco sem saída. Poderia muito bem ser prejudicial à economia alemã. Certamente, obriga a Alemanha a transferir recursos a seus "clientes", de uma forma custosa ou de outra.
A saída é realmente uma opção. Se for rejeitada, como acredito que será, grande parte dos mesmos ajustes vai acabar ocorrendo de maneira ainda mais dolorosa. A alternativa é a "união de transferências" que os alemães temem. A Alemanha pagou um alto preço pela estratégia mercantilista. Dentro ou fora do euro, essa estratégia não pode - e não deve - continuar. (Tradução de Sabino Ahumada).
* "What Germany should fear most is its own fear" (O que a Alemanha deveria mais temer é seu próprio medo, em inglês) www.voxeu.org.
Martin Wolf é editor e principal comentarista econômico do FT.
terça-feira, 25 de setembro de 2012
Draghi, o demônio de Weidmann
Por Wolfgang Münchau - Valor 25/09
"Tal papel, em lugar do ouro de verdade, é prático: sabemos exatamente o que temos [...] Os sábios, porém, quando o tiveram estudado, vão ter confiança infinita no infinito." Mefistófeles, em "Fausto: Segunda Parte da Tragédia", de Johann Wolfgang von Goethe
Tudo o que você precisa saber sobre a Alemanha provavelmente vai encontrar em alguma parte de "Fausto", de Goethe. É raro, no entanto, encontrar alguma grande revelação na segunda parte da tragédia, um dos livros mais reverenciados e menos lidos em toda literatura alemã. Uma pessoa que conseguiu escavar algo realmente notável na obra foi Jens Weidmann. O presidente do Bundesbank, autoridade monetária da Alemanha, citou o conselho de Mefisto ao imperador, citado acima, de que a simples solução para a falta de dinheiro é imprimi-lo.
O discurso de Mefisto resume bem o pesadelo supremo da Alemanha com papéis-moeda e a união monetária. Ficou claro, a partir do contexto e do momento do discurso, que Weidmann escolheria Mario Draghi para o papel de Mefisto dos dias de hoje, embora, obviamente, não o tenha dito de forma explícita. As declarações de Weidmann concluíram um dos períodos de duas semanas mais extraordinários da história dos bancos centrais. Estamos no vértice de um novo e importante desdobramento, um que o Bundesbank abomina. O Federal Reserve (Fed, autoridade monetária dos Estados Unidos) lançou um novo programa de flexibilização monetária quantitativa e ficou muito mais determinado a atuar como orientador das expectativas. O Banco Central Europeu (BCE), comandado por Mario Draghi, anunciou um programa ilimitado - embora condicionado -de compras de bônus; um programa que faz estremecer tudo o que o Bundesbank defende e acredita.
Além dessas ações concretas, há agora um debate na comunidade acadêmica sobre o que poderia nos tirar do inferno - inferno, pelo menos, do ponto de vista de Fausto e Weidmann.
Há um debate sobre adotar metas para a renda nominal, a partir das quais um banco central não mais estabiliza o índice de inflação diretamente e em vez disso se preocupa em estabilizar o Produto Interno Bruto (PIB) nominal. Podemos pensar no PIB nominal como a soma do PIB real com a inflação. Se o crescimento real cai, o banco central teria, portanto, que elevar a inflação. De forma homóloga, se o crescimento real aumenta, o banco central teria de conter a inflação de forma muito mais agressiva do que o faria se estivesse sob um regime de metas inflacionárias, usado por bancos centrais como o BCE.
Agora, observemos sob o ponto de vista do conservador alemão, leitor de jornais, que há décadas vem sendo alimentado com informações equivocadas sobre o funcionamento da economia moderna. Ele foi informado, como se fosse fato incontestável, que o aumento na base monetária e a compra de títulos governamentais provocam a alta da inflação no médio prazo. Os jornais até dão aos leitores conselhos sobre como proteger-se contra a agora certa degradação do euro. Ao citar Mefisto, Weidmann está transformando o medo em histeria.
A comunidade econômica alemã e Weidmann nunca aceitaram as teorias que sustentam as políticas do banco central moderno. Esse é um dos motivos pelos quais o BCE acabou chegando a uma abordagem analítica com "dois pilares": um voltado aos choques e dinâmicas econômicas e outro, às "tendências econômicas". O primeiro foi construído para ter relevância nas políticas econômicas; o segundo, para fingir que o BCE mantinha a tradição do Bundesbank. Estremeço só de pensar como um debate sobre metas para a renda nominal se desdobraria na Alemanha.
Deveria estar claro, a esta altura, que jogo Weidmann está fazendo. Ele está sabotando o euro valendo-se dos meios mais eficientes que tem à disposição - reforçando os temores inatos da população quanto à moeda comum. Ele não tem como superar o Conselho do BCE nas votações. É uma minoria de um. Também sabe que não pode derrubar as políticas do BCE por meio de caminhos legais. Qualquer um que decidisse arrastar Mario Draghi à frente do Tribunal de Justiça da União Europeia perderia. Weidmann já não tem mais influência sobre Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, a quem outrora aconselhava.
Mas não se enganem: ele é muito eficiente em encorajar um "euroceticismo" progressivo entre os alemães. Ao fazê-lo, poderia muito bem ter sucesso em corroer as chances de sobrevivência do euro, porque o euroceticismo limita o espaço de manobras políticas do governo alemão. A situação lembra-me muito a forma como o debate político na Grã-Bretanha tornou-se anti-União Europeia entre o início e meados da década de 90.
Provavelmente, foi inevitável que esse confronto de culturas econômicas que há muito se perfilava tenha, enfim, emergido abertamente. Enquanto a recessão piora na Europa, o BCE, em breve, vai adotar medidas similares às adotadas pelo Fed. Pode até acabar valendo-se de uma meta de renda nacional nominal, seja de forma explícita ou implícita, pela simples razão de que a crise na região do euro é, em última análise, insolúvel sem um crescimento anual de pelo menos 5%. E não consigo imaginar o Bundesbank apoiando nada disso.
Apesar de suas muitas falhas de design, o BCE tornou-se, relutantemente, um banco central moderno. O Bundesbank ainda está obcecado com Mefistófeles. Não tenho a menor ideia de como esse conflito vai acabar. Certamente, a resposta não se encontra na segunda parte de "Fausto". (Tradução de Sabino Ahumada)
Wolfgang Münchau é editor do FT, especialista em União Europeia.
Stanley Fischer, economista
Por Antonio Delfim Netto - Valor 25/09
No Brasil um grande número de analistas condena até um encontro casual num elevador, do ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Isso revela que entendem mal o exercício da política monetária e o da política fiscal. Exigir que o presidente do BC e o ministro da Fazenda se ignorem, não passa de pura ignorância!
Para comprovar isso, nada melhor do que um anúncio conjunto de meia página no "The Economist" de 15 de setembro de 2012 pelo Tesouro Inglês (His Majesty Treasury) e do Banco Central inglês (Bank of England) no qual convidam, para um concurso público, candidatos ao cargo de presidente do banco. Em junho de 2013 deverá vencer o mandato do atual, sir Mervyn King.
E como o feliz vencedor vai trabalhar? O mesmo anúncio informa: "O presidente (the governor) trabalhará intimamente com o ministro da Fazenda (chanceller of the Exchequer) e com o Tesouro (His Majesty Treasury) que é responsável pelo estabelecimento das diretrizes dentro das quais o banco deve operar". Se encontrarmos num "pub" tomando "Guinness" e confraternizando os três ilustres personagens, não devemos suspeitar que o "eleito" perdeu a sua "independência" como acontece em Pindorama...
Falando de política monetária, Stanley Fischer, presidente do Banco Central de Israel desde 2005, comentou um magnífico trabalho (Cagliarini, A.-Kent, C.-Stevens, G. - "Fifty Years of Monetary Policy: What Have We Learned?"). À sua excelência acadêmica ele soma agora a experiência prática de dirigir um banco central, o que lhe dá muito mais responsabilidade de quando vice-chairman do Citi (1988-1990) e posteriormente, managing director do International Monetary Fund (1994-2001).
Talvez não haja no mundo outro economista que tenha atingido a excelência na Academia, metido as mãos nas entranhas do sistema financeiro privado, aproveitado o poder arrogante do FMI e, no fim, castigado com a presidência de um banco central num país onde as dificuldades políticas e econômicas são notáveis. É por isso que o que ele fala deve ser levado muito a sério.
Depois de mostrar que um sistema de metas de inflação relativamente "flexível", no qual o banco central usa cuidadosa política monetária que leva em conta seus efeitos sobre o nível de atividade para decidir se a velocidade de retorno à meta é capaz de produzir o resultado esperado de estabilizar a expectativa de inflação no longo prazo, ele tece algumas considerações extremamente úteis que derivam de sua longa e variada experiência. Divide-as em quatro itens:
1) o problema de um único instrumento com dois objetivos;
2) o "trade off" nulo no longo prazo entre inflação e crescimento que toma a mesma forma no curto prazo;
3) o problema da taxa de câmbio para as pequenas economias abertas e;
4) os problemas dos preços dos ativos, da estabilidade financeira e da supervisão macroprudencial.
Com relação ao primeiro, ele mostra a inutilidade do famoso teorema que exige um número de instrumentos igual ao número de objetivos, porque esse supõe a independência dos instrumentos e dos objetivos. E conclui: "Portanto, não é geralmente verdade que por que o banco central tem apenas um instrumento (a taxa de juros) ele pode influenciar apenas um objetivo, a menos que o instrumento não tenha nenhum efeito sobre os outros objetivos." No fundo trata-se de um problema prático: de como chegar no entorno, ou seja, não precisamente nos dois objetivos, usando um só instrumento.
Com relação ao segundo, sugere que a não existência de "trade-off" entre inflação e variação do PIB no longo prazo, não é verdadeira no curto prazo. Tal hipótese decorre da aceitação da teoria das expectativas racionais que em geral é incorreta. A verdade, conclui Fischer "é que o longo prazo é uma sucessão de curtos prazos e que em todo momento o banco central tem de levar em conta esse 'trade-off'" (no curto prazo).
Com relação à terceira questão, Fischer é categórico (uma mudança de 180 graus com relação à Academia, à prática do mercado financeiro e ao FMI de então): "Nenhuma pequena economia pode ser indiferente ao comportamento de sua taxa de câmbio, que compete com a taxa de juros pelo papel de ser o mais importante preço relativo da economia (certamente a palavra "real" poderia ser inserida duas vezes nessa frase)". E acrescenta, do alto de sua experiência: "Os livros-texto dizem que a política fiscal pode ser apertada para reduzir a taxa de juro e, assim, reduzir os incentivos para a entrada de capitais. Essa é uma boa história e é válida em certas circunstâncias. Usualmente, porém, a política fiscal já tem problemas suficientes para administrar as despesas do governo e seu financiamento sem ter que assumir a responsabilidade pela política cambial. Dessa forma o problema volta ao banco central e a outros instrumentos que não a política fiscal." Ele reconhece as dificuldades do controle de capital, mas adverte que "um banqueiro central nunca deve dizer que nunca"... vai utilizá-lo!
Com relação ao quarto item, resume a questão à de como enfrentar "bolhas". O problema não é decidir se o banco central deve furá-las, mas sim se ele deve levar em conta o estado dos mercados de ativos na formulação da política monetária. A resposta de Fischer é simples e direta: "Sim".
A vida ensinou-lhe a necessária humildade na combinação do conhecimento acadêmico e o mundo real. Alguns de nossos arrogantes analistas que se pensam portadores da "verdadeira ciência monetária" fariam muito bem em tentar imitá-lo.
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
As nações mais tuiteiras
Por Javier Santiso - Valor 24/09
Se o Twitter fosse um país, seria um dos mais populosos do planeta. Em meados de 2012, a rede de relacionamento social superou a marca de 500 milhões de usuários (venturebeat.com/2012/07/30/twitter-reaches-500-million-users-140-million-in-the-u-s/). É menos que o Facebook, é verdade, mas supera com folga a população de quase todos os países, Estados Unidos incluído, ficando apenas atrás da China e Índia.
O que mais chama atenção em tudo isso? É que a metade dos 20 países com mais usuários do Twitter é formada por países emergentes. Entre esses países, logo atrás dos Estados Unidos, nos deparamos com um país latino-americano, o Brasil. Também aparecem na lista o México (7º lugar), Colômbia (12º), Venezuela (13º) e Argentina (19º), além da Espanha (9º). Todos eles superam países como a França e a Alemanha, integrantes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em outras palavras: a difusão tecnológica - ou, em todo caso, a das redes de relacionamento social - está se disseminando de forma cada vez mais rápida, alcançando os países emergentes e os mais industrializados com a mesma velocidade.
Outro dado ainda mais surpreendente: a cidade com mais "tweets" não é Tóquio (segunda), Londres (terceira) ou Nova York (quinta), mas Jacarta, na Indonésia. São Paulo, no Brasil, é a quarta, superando Nova York; Bandung, na Indonésia, supera Paris e Istambul, na Turquia, supera Madri. As cidades dos países emergentes, portanto, estão no mesmo nível que as dos países da OCDE. Entre as 20 cidades mais ativas nessa rede social também vemos o Rio de Janeiro e Seul à frente de Miami e Atlanta.
Entre esses países, quais são os que possuem líderes mais atuantes no Twitter? Dos 193 países da Organização das Nações Unidas (ONU), nem todos possuem dirigentes, chefes de Estado ou de Governo ativos na rede. Apenas 30 das 264 contas de líderes analisadas por Burson-Masteller (twiplomacy.com/) são atualizadas pelo próprio líder e de forma regular. A metade dos dirigentes não "segue" outros dirigentes. Apenas 25% dos líderes mundiais seguem o presidente americano Barack Obama, que por sua vez segue só três outros dirigentes mundiais (o da Noruega, Inglaterra e Rússia). O mais conectado de todos com outros líderes é o presidente da União Europeia (UE), que segue 11.
Um dos dirigentes com mais seguidores no mundo está na América Latina: é o presidente Hugo Chávez, da Venezuela. Com mais de 3 milhões de seguidores, supera qualquer outro líder no continente, seja os do Brasil, Argentina ou Colômbia, todos com mais de 1 milhão de seguidores. Ele tem a maioria dos outros líderes da América Latina como seguidores e é um dos mais atuantes, com duas mensagens por dia, em média. A presidente do Brasil também está entre os dez líderes com mais seguidores: o número passou de 200 mil no dia de sua eleição para quase 1,6 milhão em agosto de 2012. Ela não envia mensagens desde 2010, no entanto. Ela não segue nenhum outro dirigente, mas tem 17 deles entre seus seguidores, a maioria na América Latina.
Uma das contas mais ativas, com média de 14 tweets por dia, é a de outro dirigente latino, o da Espanha: Mariano Rajoy. Com pouco mais de 300 mil seguidores, ele não é seguido por seus pares latino-americanos mencionados anteriormente nem pelos chefes de Estado do Chile e Equador, que possuem mais seguidores que ele. Rajoy, no entanto, supera com folga vários líderes europeus, como Angela Merkel (com apenas 65 mil seguidores e bem pouco atuante na rede), e chega perto do francês François Hollande (com mais de 400 mil seguidores). Na Europa, apenas David Cameron, com mais de 2 milhões de seguidores, se aproxima do patamar da (primeira) divisão "latina".
As redes sociais estão se transformando em canais de comunicação política. Nem todos os governos e chefes de Estado, contudo, entendem dessa forma. Surpreendentemente, ninguém do governo e nem o chefe de Estado sueco, um dos países mais presentes no mundo digital, estão no Twitter; outros começaram apenas recentemente, como a Suíça, em julho de 2012. A avidez por comunicação, inclusive nas redes de relacionamento social, parece, no entanto, estar bem ancorada no mundo latino. Na região estão alguns dos reis do Twitter.
Javier Santiso é professor de economia na Esade Business School
Bancos públicos e expansão do crédito
Por Jairo Saddi - Valor 24/09
Apesar de o Banco do Brasil (BB) ter sido fundado em 1808, foi apenas com o presidente Rodrigues Alves (que fora duas vezes ministro da Fazenda, primeiro no governo de Floriano Peixoto e, depois, no de Prudente de Moraes) que, em 1905, o BB se tornou o "banqueiro do Estado". Este, porém, só se tornaria acionista majoritário em 1923. Naquele momento, a função precípua do BB era assumir e estabilizar o câmbio como agente do Tesouro Nacional e seu papel como banqueiro central, de desenvolvimento ou comercial, foi completamente limitado. Prova disso é que seu Estatuto (de 1905) proibia "empréstimos ou descontos com prazos de mais de seis meses, vetava redesconto e impedia a compra de ações de outras companhias" (apud Fernando Nogueira da Costa. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012. p. 47). E a Caixa Econômica Federal (CEF) também teve percurso semelhante. Criada pelo Decreto Imperial n. 2.723, de 12 de janeiro de 1861, como "Caixa Econômica da Corte", somente em 1931 passou a operar uma carteira comercial e hipotecária, o monopólio da Loteria Federal só viria em 1961.
Se a história das duas principais instituições financeiras públicas brasileiras é repleta de idas e vindas, por ordem da presidente Dilma, no segundo trimestre deste ano, tanto o Banco do Brasil quanto a CEF assumiram um papel decisivo no aumento do crédito no mercado. Estima-se que quase R$ 65,7 bilhões foram injetados na economia pelos bancos públicos, respondendo por cerca de 70% do aumento do crédito no mesmo período. Enquanto o crescimento da carteira de crédito do BB foi de quase 50%, o do Caixa chegou a crescer em quase 60% determinadas carteiras. Os cortes na taxa de juros e a portabilidade de devedores de outras instituições explicam o expressivo aumento.
Quando há um aumento expressivo do volume do crédito, que sempre deve ser saudado como positivo em momentos mais recessivos, a dúvida do aumento da inadimplência ronda forte.
Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal, em artigo publicado no Valor ("Acreditar no Brasil é um bom negócio", 21 ago. 2012), descreve o racional da instituição justificando que a inadimplência é maior em carteiras que "não se renovam" e que ficam "estagnadas", e que, diferentemente, os clientes da Caixa "entenderam o recado: no primeiro semestre deste ano, foram abertas 1,132 milhões de novas contas correntes, 27% a mais que no primeiro semestre de 2011. Estes novos clientes vieram em busca de um novo tratamento, de taxas mais baixas, prazos mais longos e de tarifas mais justas. Encontraram o que queriam. E retribuíram, pagando em dia suas dívidas". Graças à boa compreensão dos clientes, neste novo tipo de capitalismo audacioso e social, Hereda propõe um novo modelo bancário de exuberância do crédito, em que os inadimplentes (que deveriam se tornar provisões para devedores duvidosos e daí prejuízo no duro) dão lugar a maior volume de crédito. Diz ele ainda no citado artigo: "A inadimplência costuma ser maior em carteiras de crédito que não se renovam, justamente porque as dívidas não pagas ficam estagnadas e contaminam o índice. Carteiras renovadas pela redução dos juros e oxigenadas pelo oferecimento de crédito a novos clientes tendem a registrar inadimplência menor. Em poucas palavras: ofereça crédito mais barato e será mais fácil cobrar a dívida. Aconteceu com a Caixa, pode acontecer com todos os bancos, desde que ganhe acolhimento a ideia de que não se faz lucro apenas com spreads altos. Recusar crédito por medo da inadimplência pode acabar provocando aumento do índice de inadimplência".
Espero que o senhor Hereda esteja certo. É verdade que há um papel político a ser preenchido pelos bancos públicos, especialmente em épocas de crise. A história, contudo, tem sido mais cruel com inadimplentes, sempre resultando em monstruosos reconhecimentos de passivos contingentes e a consequente (re)capitalização dos bancos públicos. Programas governamentais associados ao saneamento de bancos públicos estaduais (Proes), à renegociação das dívidas dos Estados com a União (securitização de dívidas), ao equacionamento dos débitos do FCVS e à capitalização desses bancos públicos federais custaram muito ao erário. Parafraseando Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, "Será que desta vez será diferente?"
Jairo Saddi, pós-doutor pela Universidade de Oxford, é professor de Direito do Insper
sexta-feira, 21 de setembro de 2012
Estranhezas
Ronaldo Pignataro
Simplesmente, Dan, um dos leitores deste blog, deixou o seguinte comentário ao post Jackson Hole, Wyoming, 2012! :
Alguém do blog poderia comentar o esquecimento do FED com relação á armadilha de liquidez keynesiana ?
Bom que se explique que na convenção de Wyoming, Ben Bernanke, presidente do FED, o banco central americano, defendia os “quantitative easing” quando dois já haviam sido realizados, o que levou ao convencimento de que ele preparava o terceiro, o que de fato ocorreu em tempo recente, para o desespero de Mantega.
“Quantitative easing” é colocar mais moeda no mercado através da impressão, ou seja, acelerar a fabricação de dinheiro acreditando que este dinheiro irá para a circulação, aumentando o que se chama de “liquidez” do sistema.
Pode acontecer, no entanto, a partir de um ponto definido por uma conjunção de variáveis estudadas por Keynes, que o dinheiro não vá para a circulação, entrando a economia numa espécie de coma, como aconteceu, de fato, com o Japão na década de 90, fenômeno conhecido como “armadilha de liquidez”.
Pode-se dizer que o dinheiro, nesta situação, torna-se mais importante do que pode ser adquirido por seu intermédio. As pessoas deixam de comprar hoje porque amanhã os produtos estarão mais baratos, o crescimento se torna nulo ou negativo e a economia passa a funcionar somente com o essencial, realmente um coma com a manutenção somente dos sinais vitais.
Para acontecer tal coisa com os EUA seria o inimaginável que acontecesse em escala global. Isto porque a moeda norte-americana é a utilizada para o comércio das commodities. Inevitável, portanto, que haja inflação nos preços e não o contrário. A ninguém é dado o luxo de viver sem energia e alimentos!
Como vimos acontecer, a alta nos preços das commodities vem compensada pela valorização cambial, também, como resultado de maior liquidez da moeda estrangeira o que pode trazer junto maior escoamento da produção dos EUA para os emergentes dirimindo os riscos de recessão naquele país a empurrá-lo para a armadilha.
Para os EUA, tudo parece funcionar bem. Estarão sempre na posição vendedora, quer sejam produtos de sua fabricação ou figurinhas estampadas com “In God we trust” .
A crise é permanente, mutante e contagiosa
Por Tony Volpon - Valor 21/09
Normalmente pensamos em "crise" como algo instável, um processo de transição entre uma situação que não mais se sustenta e uma nova, em que as contradições se resolvem e a estabilidade se restabelece.
Mas será que a crise não se tornou a nossa normalidade? Podemos imaginar a crise não como processo, mas sim como estado, um processo que se autoalimenta e assim se sustenta?
Gostaria de defender essa tese sobre a crise que estamos vivendo. A crise que enfrentamos, em sua essência, não é uma anormalidade que devemos procurar superar. Na verdade, ela define os tempos que vivemos. Isso não implica, necessariamente, que estejamos condenados a um mal-estar permanente. Na etimologia original da palavra na língua grega, "krisis" também significava decisão e poder de escolha. Vou defender a ideia de que isso ocorre na situação atual.
Mas, infelizmente, devemos reconhecer que a crise agora chegou ao Brasil, ou melhor, aos emergentes. Não é por acaso que hoje vemos forte desaceleração de crescimento na maioria das grandes economias emergentes, não somente no Brasil, mas também na China e na Índia.
A crise atual não se diferencia somente por seu caráter permanente. Ela também é mutante e contagiosa. Seu "ground zero", seu ponto de início, não se deu por aqui, mas ela chegou. E, para entender sua essência, devemos voltar ao ponto de origem, isto é, aos Estados Unidos.
Pax americana
A ordem econômica mundial estabelecida com o fim da Segunda Guerra Mundial, tendo os Estados Unidos como poder hegemônico, iniciou um período de estabilidade que, do ponto de vista atual, parece mais e mais como uma época de ouro. A Guerra Fria, com todos os seus riscos apocalípticos, foi no fim do dia, do ponto de vista econômico, pouco relevante.
Nessa nova ordem mundial, todos tinham seu lugar. Os Estados Unidos e os países desenvolvidos detinham a dianteira tecnológica e científica, assim alimentando sua indústria em contínuo processo de crescimento e inovação. Países periféricos, carentes da densidade institucional para concorrer com os desenvolvidos, assumiam lugar subordinado, alguns tendo a sorte de produzir algum tipo de matéria- prima. Ter essa sorte possibilitou maior integração à economia mundial, permitindo, assim, importar manufaturados ou até arriscar a construção de uma capacidade industrial local.
Essa divisão internacional do trabalho foi responsável pela ascensão da grande classe média consumidora nos países desenvolvidos. Por força do processo democrático, os trabalhadores nos países desenvolvidos aumentaram de forma contínua seus rendimentos, o que, pelo crescimento da produtividade, criou um círculo virtuoso de desenvolvimento. Contra tudo que pregava a visão marxista de um embate necessário entre as classes, capital e trabalho andaram juntos nos anos 1950 e 1960 nos países desenvolvidos.
Mas, muito em sintonia com o conceito marxista de que a base tecnológica determina a superestrutura política, social e ideológica, a partir dos anos 1970 um conjunto de desenvolvimentos possibilitou a crescente internacionalização da economia global, especialmente a industrial. De maneira crescente, o processo de produção não estava mais atado a algum local, mas poderia se espalhar, buscando nichos de vantagem competitiva. O pacto econômico e social nos países desenvolvidos entre capital e trabalho começou a se dissolver.
Apesar de ser um processo gradual, ele se acelerou de forma vertiginosa com a entrada da China como plataforma manufaturadora da economia global. Não devemos perder de vista a grande ironia de que foi justamente um país nominalmente comunista que transformou a face do capitalismo global, juntando a disciplina maoísta de sua força de trabalho com a mais "neoliberal" política de abertura para o comércio exterior e os investimentos estrangeiros.
A globalização chinesa
A ascensão econômica chinesa é certamente uma das mais importantes causas do esvaziamento e declínio da indústria dos países desenvolvidos, da decadência da classe média, do crescimento da desigualdade de renda, bem como da falta de sustentabilidade de seus generosos sistemas de previdência social. Cada um desses fenômenos é decorrente do outro, um resultado do rearranjo da economia global, em que o capital se alinha onde há mais ganho, sem limitações geográficas.
Já ficou bastante claro que o grande salto da economia brasileira nos últimos anos tem tido como motor principal o desenvolvimento chinês. Por uma variedade de canais de riqueza e renda, a simbiose entre nosso país, rico em toda variedade de matérias-primas, e a voraz demanda chinesa possibilitou uma mudança no nosso padrão de desenvolvimento. Somos sócios privilegiados da globalização chinesa.
Apesar de os dados mostrarem claramente que a decadência da classe média americana já vem dos anos 70 e 80 do século passado, os mesmos avanços tecnológicos que permitiram a difração do processo produtivo em múltiplas partes espalhadas ao redor do mundo também permitiram uma enorme sofisticação dos mercados financeiros. Isso possibilitou a crescente alavancagem de renda dos americanos, aumentando seu consumo na base do crédito, e assim criando um falso senso de bem-estar que escondeu, econômica e politicamente, uma crescente deterioração da renda real. Como hoje sabemos, tudo resultou numa enorme bolha imobiliária e de crédito.
Na Europa, a dinâmica foi um tanto diferente, mas não o resultado. A união econômica imaginada ao redor do euro junta economias díspares em um projeto de convergência. Mas a moeda única não funcionou como mecanismo de convergência e, sim, de divergência.
As economias do Sul se endividaram a um custo igual ao das mais avançadas economias do Norte, possibilitando um boom de consumo que elevou o custo do trabalho. Isso aumentou fortemente a já grande divergência de competitividade entre as duas regiões do continente. Com isso, tivemos mais uma crise de dívida, nesse caso não somente dos setores privado e bancário, mas também uma crise soberana.
A crise chega aos emergentes
As dinâmicas descritas acima parecem colocar os países emergentes em lugar privilegiado nessa nova ordem econômica mundial. Isso tem sido aceito como um lugar-comum, e muitas políticas e estratégias de negócio (por exemplo, a popularidade dos Brics, grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como tema de investimento) acabaram tendo essa aparente obviedade como parâmetro central.
Por isso, a questão mais urgente hoje não são os últimos desdobramentos da crise europeia ou os derradeiros movimentos do Federal Reserve (Fed), o banco central americano. A questão mais urgente é a desaceleração do crescimento nas grandes economias emergentes, em especial na China e no próprio Brasil.
Acredito hoje ser possível postular que há algo em comum nesse processo, apesar da grande disparidade de condições entre as grandes potências emergentes e os países desenvolvidos.
Nos países desenvolvidos, a crise foi o desdobramento final de um processo longo onde houve uma fundamental ruptura de interesses entre uma elite hoje globalizada e uma classe média e trabalhadora local. Essa ruptura, apesar de ter uma base tecnológica, foi fundamentalmente política. Vemos nisso uma falha no processo democrático, na sua incapacidade de articular um projeto nacional frente a uma economia crescentemente global. Mas nada aconteceu por acaso. Isso decorreu de escolhas políticas.
Vemos uma repetição desse processo hoje nos emergentes. Cada uma das grandes potências emergentes já colheu os ganhos fáceis da nova globalização, mas agora enfrenta problemas estruturais para garantir a continuidade do seu desenvolvimento, para qual, o processo político não tem achado respostas adequadas.
No caso chinês, isso tem a ver com a necessidade de trocar um modelo de crescimento demasiadamente concentrado no investimento por um baseado no consumo, processo que encontra grande resistência na elite que circula entre o Partido Comunista, governo e o setor estatal, que têm a base de sustentação do seu poder no modelo centrado nos investimentos.
O Brasil enfrenta o desafio contrário. Tem que transformar um politicamente popular modelo de crescimento baseado em consumo em outro, focado em investimento e competitividade.
É na incapacidade política de responder na velocidade necessária a um conjunto de mudanças tecnológicas e econômicas que encontramos a essência da crise atual. Hoje isso não mais se limita ao mundo desenvolvido, já vemos com clareza os efeitos nos emergentes, que não podem dar respostas políticas e institucionais adequadas à rápida mudança de circunstâncias impostas pelas tecnologias modernas.
E é exatamente por isso que não podemos pensar no atual estado de crise como algo passageiro: o hiato entre a política e a tecnologia, entre a política e os mercados, não deve ter fim.
Previsões, previsões
O que diz essa conceituação da crise sobre o que deve acontecer doravante? Devemos de antemão reconhecer que uma das principais características do nosso tempo é a sua enorme complexidade, fazendo qualquer tentativa de previsão algo heroico, senão impossível. Mas uma coisa me parece clara: a economia coloca o problema, mas a solução terá que ser política.
No caso da China, a recente queda de sua taxa de crescimento deve ser vista como sendo mais estrutural e permanente do que cíclica. A relutância da liderança do Partido Comunista em lançar mais um programa de investimentos evidencia não só um delicado momento de transição política, mas o reconhecimento de que os resultados dessa política de investimento tendem a ser marginalmente decrescentes.
Não devemos desprezar as dificuldades de se trocar um modelo baseado em investimento por outro, amparado por exportações e consumo - nenhum dos países asiáticos mais desenvolvidos conseguiu fazer isso com pleno sucesso. Fora as dificuldades de enfrentar os grupos que hoje desfrutam do modelo atual, há o fato de que o desafio de qualquer processo de liberalização, como tem que acontecer no setor financeiro, normalmente aumenta os riscos macroeconômicos.
Enquanto não devemos desprezar a capacidade da sociedade chinesa de achar soluções para seus problemas, essas dificuldades, somadas a uma já esperada implosão demográfica, devem taxar enormemente a sua capacidade de adaptação. Nos próximos anos, um crescimento perto de 7% deve ser visto como um bom resultado na China, e não devemos nos surpreender quando a taxa for de fato menor.
Na Europa, a crise é de superendividamento, com suportes institucional e político inadequados para sustentar uma união europeia. Para resolver a questão da dívida, teremos que ver um "encontro de contas" entre os credores do Norte e os devedores do Sul, algo que passa pelos vários programas de ajuste já em curso.
Mas há limites políticos e sociais para o volume de recursos que serão repassados dos devedores para os credores e a velocidade em que isso vai ocorrer. Esses limites mudam ao longo do tempo. Há uma tendência de o prolongamento da recessão nos países devedores diminuir os limites do ponto de vista político. O recente pacote de ajuda do Banco Central Europeu (BCE) deve garantir tempo para a negociação política dessas transferências e, ao mesmo tempo, construir o suporte institucional necessário à consolidação da moeda única.
Mas o problema central persiste: não há como criar essa estrutura institucional sem substancial perda de soberania nacional. Apesar disso, o terror do caos que se instalaria no continente com a dissolução do euro deve ser suficiente para levar todos os envolvidos a ceder no que for necessário. Mas o processo será bastante complicado e longo.
Talvez, surpreendentemente, o melhor colocado economicamente para superar seus problemas sejam os Estados Unidos, o "ground zero" da crise. De todos os grandes blocos econômicos, têm a melhor situação demográfica. Seus problemas fiscais, por maiores que sejam, podem facilmente ser resolvidos a tempo com um razoável mix de corte de despesas e aumento de receita. E, depois de anos de queda de sua moeda, sua indústria parece ter recuperado certa competitividade. Além disso, sua capacidade de inovação tecnológica ainda é amplamente superior à de qualquer rival.
Apesar dessas vantagens, o desafio de achar um consenso em uma sociedade tão dividida, em meio a partidos crescentemente antagônicos, pode prolongar ou mesmo piorar a crise. O possível "fiscal cliff" será um importante teste para se descobrir se, apesar de tudo, ainda existe racionalidade na política americana.
E o Brasil? A boa notícia é que o baixo crescimento deste e do último ano acabou finalmente com a falsa euforia e colocou no centro do debate questões como a competitividade e a necessidade de se pensar na oferta e não somente na demanda econômica.
Para vencer essa agenda, certos preconceitos políticos, em relação às privatizações e ao tamanho do Estado, por exemplo, precisam ser superados. Precisam ser vencidos os interesses dos grupos que desfrutam de vantagens do modelo atual, assim como ocorre na China. Sem isso, parece que estaremos condenados a ter uma taxa de crescimento potencial mais perto de 3% ao ano do que de 4% ou mais, o que não exatamente se configura como um desastre, mas é bem menos do que podemos atingir. Afinal, a escolha será nossa, como no caso também dos outros países.
Na economia globalizada de hoje, o que conta é flexibilidade e rapidez de ação: o que foi ontem uma vantagem pode ser hoje uma desvantagem, o que foi um ponto forte pode virar uma fraqueza. O tempo da política sempre será necessariamente mais lento que o do mercado, mas admitir isso não implica aceitar que nossos sistemas políticos fiquem indiferentes à necessidade de responder prontamente aos desafios atuais. A crise pode ser uma condição permanente dos nossos dias, mas como bem sabiam os gregos antigos, ela no fundo implica que temos escolhas a fazer.
Tony Volpon é diretor da Nomura Securities International, Inc.
Mitt Romney e os aproveitadores
Por Simon Johnson - Valor 21/09
O partido Republicano tem algumas posições potencialmente vencedoras para as eleições americanas, em novembro. Não é de hoje que eles se mostram céticos em relação ao governo, rejeição que é aumentada pela percepção de que o governo interfere demais, e isso remonta aos anos da fundação de seu país. Essa tradição legou aos americanos contemporâneos uma rejeição natural aos subsídios governamentais e uma aversão cultural à "dependência" de apoio estatal.
Mas o candidato presidencial republicano Mitt Romney e outros dirigentes de seu partido jogaram essas cartas de modo incompetente neste ciclo eleitoral. Romney aparentemente abraçou tolamente a ideia de que muitos americanos, os chamados 47%, não pagam imposto de renda federal. Romney acredita que eles se veem como "vítimas" e tornaram-se "dependentes" do governo.
Mas isso ignora dois aspectos óbvios. Primeiro, a maioria dos 47% paga um grande número de impostos sobre suas rendas, propriedades e produtos adquiridos. Eles também trabalham duro para sobreviver num país onde a renda familiar média caiu até um nível registrado pela última vez em meados da década de 1990.
Em segundo lugar, os subsídios realmente grandes nos EUA, hoje, beneficiam uma parte de sua elite financeira - os poucos privilegiados que comandam as maiores empresas de Wall Street.
Vista em perspectiva histórica ampla, essa não é uma situação anormal. Em seu recente livro best-seller de história econômica, "Why Nations Fail" (por que as nações fracassam), Daron Acemoglu e James Robinson citam muitos casos passados e atuais em que indivíduos poderosos apropriam-se do Estado e usam esse poder para enriquecer.
Em muitas sociedades pré-industriais, por exemplo, o controle sobre o Estado era a melhor maneira de obter riqueza. E, em muitos países em desenvolvimento dotados de recursos naturais valiosos, a luta para ganhar controle do governo tem se mostrado uma estratégia muito atraente. (Eu trabalhei com Acemoglu e Robinson em questões inter-relacionadas, embora não tenha me envolvido na autoria desse livro.)
O mecanismo tradicional de captura de Estado em grande parte do mundo é a violência. Mas isso não é verdade nos EUA. Nem é verdade que as autoridades do governo dos EUA sejam tipicamente subornadas de forma aberta (embora tenha havido algumas exceções notáveis).
Em vez disso, interesses particulares competem por influência por meio de contribuições para campanhas e outras formas de doações políticas. Esses interesses também orquestram grandes e sofisticadas campanhas de mídia para convencer autoridades governamentais e a opinião pública de que o que é bom para seus interesses especiais é bom para o país.
No jogo político americano moderno, ninguém teve tanto êxito quanto os maiores bancos de Wall Street, que exerceram influência por desregulamentação durante as três décadas anteriores à crise de 2008, e, depois, conseguiram bloquear quase todas as dimensões de reforma financeira.
O sucesso produziu belas recompensas. Os mais altos executivos de 14 importantes empresas financeiras receberam remunerações em dinheiro (como salário, gratificações e/ou opções (de compra) de ações exercidas) totalizando cerca de US$ 2,5 bilhões em 2000-2008 - e cinco pessoas sozinhas receberam US$ 2 bilhões.
Mas esses "Senhores do Universo" não ganhariam esse dinheiro sem enorme ajuda do governo. Por serem considerados "grandes demais para falir", seus bancos beneficiaram-se de ajuda do governo ou garantias contra eventos adversos. Eles podem assumir mais riscos - operando mais fortemente alavancados com menos capital de acionistas. Eles conseguem retornos maiores quando as coisas vão bem e recebem ajuda do Estado quando a sorte volta-se contra eles - cara: eles ganham; coroa: nós perdemos.
E os prejuízos são colossais. De acordo com um recente relatório sobre as consequências da crise de 2008, preparado pelo "Better Markets", um grupo ativista que defende reformas financeiras mais vigorosas, o custo, para a economia americana, resultante da crise financeira - causada pela temerária tomada de riscos por instituições financeiras - soma pelo menos US$ 12,8 trilhões. Grande parte desse custo materializou-se na forma de empregos perdidos e de vidas desestruturadas entre os 47% de pessoas nos estratos inferiores da distribuição de renda americana.
O ex-governador de Utah e candidato presidencial republicano, Jon Huntsman, abordou essa questão clara e repetidamente, ao empenhar-se - sem sucesso - em conseguir a indicação de seu partido para desafiar o presidente Barack Obama. Obriguemos os bancos a se fracionar (em unidades de menor porte), argumentou ele, para eliminar seus subsídios. Tornemos essas instituições financeiras suficientemente pequenas e simples para que possam falir - e então deixemos que o mercado decida qual delas deve morrer ou sobreviver.
Esse é um argumento em torno do qual todos os conservadores deveriam ser capazes de unir-se. Afinal de contas, a ascensão de megabancos de presença mundial não foi um resultado de eventos no mercado; esses bancos são companhias patrocinadas e subsidiadas pelo governo, sustentados pelos contribuintes. (Isso é tão verdadeiro, hoje, na Europa como nos EUA.)
Romney tem razão em levantar a questão dos subsídios, mas ele expressa erroneamente o que aconteceu nos EUA durante os últimos quatro anos. Os grandes, não transparentes e perigosos subsídios são passivos eventuais que não constam dos orçamentos gerados por socorro governamental a instituições financeiras grandes demais para falir. Esses subsídios não aparecem em nenhuma alocação anual de verbas e eles não são bem mensurados pelo governo - sendo isso parte do que os tornam tão atraentes para os grandes bancos e tão prejudiciais para todos os demais.
Se Romney tivesse focado a repulsa da opinião pública nos subsídios aos megabancos de presença internacional, ele agora estaria navegando tranquilamente rumo à Casa Branca. Em vez disso, ao criticar 47% dos americanos - as próprias pessoas mais prejudicadas pelo comportamento imprudente dos bancos - sua perspectiva de vitória em novembro foi gravemente comprometida. (Tradução de Sergio Blum)
Simon Johnson foi economista-chefe do FMI e é cofundador do blog sobre economia www.BaselineScenario.com, professor da MIT Sloan, membro sênior do Instituto Peterson para Economia Internacional e coautor de "White House Burning: The Founding Fathers, Our National Debt, and Why It Matters to You" (Casa Branca em chamas: os pais fundadores, nossa dívida nacional e por que isso é importante para você, em inglês), com James Kwak. Copyright: Project Syndicate, 2012.
www.project-syndicate.org
Crescimento e incertezas
Por Mansueto Almeida - Valor 21/09
Na última semana, participei de algumas reuniões com investidores estrangeiros, administradores de fundos de investimento. Esses gestores queriam conversar sobre as perspectivas de crescimento do Brasil para decidir se devem ou não aumentar o investimento no país.
Nessas reuniões, fiquei surpreso com o elevado grau de desconfiança que esses investidores apresentavam e as dúvidas que eles passaram a ter em relação ao rumo da política econômica. Percebe-se uma imensa boa vontade e um desejo de acreditar que o Brasil entrou em um novo ciclo de crescimento sustentado, mas quando os números começam a ser colocados no papel, o que prevalece é a incerteza quanto à possibilidade de o país manter o ritmo de crescimento acima de 4% ao ano.
São cinco as principais incertezas. Primeiro, aumentou a dúvida sobre o espaço fiscal para desoneração tributária. O governo tem afirmado, consistentemente, a intenção de avançar na agenda de desoneração do setor produtivo e medidas importantes já foram tomadas. Mas, no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2013, o governo estima uma arrecadação bruta de 24,7% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 23,9%, em 2011, quando a carga tributária total foi de 36%. Como acreditar em uma agenda ampla de desoneração se isso não aparece na proposta de lei orçamentária?
Segundo, para reduzir fortemente a carga tributária, sem reduzir o superávit primário, será necessária uma forte queda da despesa primária em relação ao PIB. Isso é improvável de acontecer em quatro anos. A regra aprovada de reajuste linear de 5,2% ao ano para várias carreiras do setor público, por exemplo, não significa que a folha de pessoal vá crescer apenas isso.
Com o crescimento vegetativo da folha de pessoal entre 2,5% e 3% ao ano, o gasto total com pessoal deve crescer perto de 8% ao ano. Na proposta orçamentária de 2013, o governo estima que a despesa com pessoal será de 4,2% do PIB neste e no próximo ano, uma economia importante mas pequena (0,22 ponto do PIB) frente a despesa com pessoal, em 2010, que foi de 4,42% do PIB.
Terceiro, dada a regra atual de reajuste do salário mínimo, é possível esperar um crescimento da despesa do INSS perto de 0,5 ponto do PIB e de 0,2 ponto do PIB de outras despesas de custeio (Loas, FAT e outros) ao longo do governo Dilma. Assim, a despesa primária do governo federal, sem incluir investimento público e já descontada a economia com despesa com pessoal, crescerá perto de 0,5 ponto do PIB. Só há uma forma de conciliar a agenda de desoneração com o crescimento da despesa primária, uma queda permanente do resultado primário, que até o momento não está confirmada e nem é desejável, a não ser que decorra do crescimento do investimento público.
Quarto, aumentou a percepção de investidores externos do risco regulatório do Brasil. É nítida a preocupação dos estrangeiros com o que eles chamam do novo relacionamento do governo com o mercado. Parte da preocupação decorre de medidas temporárias, como o aumento de impostos de importação de alguns produtos, e outra parte decorre de falhas de comunicação. Um bom exemplo são as interpretações divergentes da Medida Provisória 579, que trata das novas regras de prorrogação das concessões do setor elétrico.
Além das incertezas quanto ao instrumento legal para promover as mudanças (Medida Provisória) e dos valores anunciados para indenizar as concessionárias (R$ 21 bilhões), há dúvidas se o governo quer controlar preço ou quantidade. Se o governo fixar as novas tarifas de energia em patamar muito baixo, as concessionárias privadas vão diminuir o investimento (governo controla preço). Mas se o governo quiser garantir um patamar mínimo de investimento no setor, as concessionárias vão definir as tarifas para entregar o investimento exigido (o governo controla a quantidade).
Quinto, e novamente ligado à questão fiscal, há incertezas quanto ao financiamento do pacote de infraestrutura que tem sido anunciado e aqui é preciso que as pessoas entendam a diferença entre poupança financeira e poupança real. A queda de juros vai liberar recursos aplicados em títulos públicos (poupança financeira) que poderia financiar o crescimento do investimento em infraestrutura.
Mas para essa poupança financeira se transformar em poupança real (poupança pública) ao longo de vários anos (disponibilidade de bens e serviços que seriam utilizados na construção das rodovias, portos, ferrovias, etc.) é preciso que a economia do governo com juros não seja desperdiçada em aumento de gastos com pessoal e custeio. Caso contrário, seria necessário utilizar poupança do resto do mundo que tomaria a forma de déficits crescentes em conta-corrente, uma estratégia incerta e de risco elevado.
Ainda é cedo para falar taxativamente para onde caminha a nossa política econômica. Por enquanto, há um crescente gap entre o discurso oficial e a percepção real dos analista econômicos aqui e lá fora.
Uma coisa é certa. A redução dos juros abriu no horizonte imediato uma oportunidade de ouro para o crescimento do investimento. Com um pouco mais de esforço é possível modificar a percepção dos analistas, mas para isso teremos que fazer o dever de casa que é aumentar a poupança pública e ter maior transparência dos novos marcos regulatórios para as concessões de serviços públicos.
Mansueto Almeida é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
TV on line
GRAÇA FOSTER APRESENTA PLANO DE NEGÓCIOS DA PETROBRAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS TEMPO: 00:04:23
A presidente da Petrobras, Graça Foster, falou hoje (19) na Câmara dos Deputados sobre o plano de negócios da empresa para os próximos anos. Na audiência pública realizada pelas comissões de Fiscalização Financeira e de Minas e Energia, ela apresentou datas para o Brasil recuperar a auto suficiência na produção de petróleo.
GRAÇA FOSTER, presidente da Petrobras;
DEP. VANDERLEI MACRIS, PSDB-SP;
DEP. CARLOS ZARATTINI, PT-SP.
TV: TV CÂMARA
PROGRAMA: CÂMARA HOJE
APRESENTADOR: SANDRA AMARAL
Assinar:
Comentários (Atom)