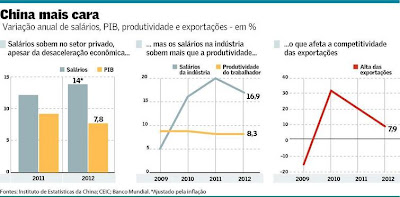O Banco Central (BC) passou ontem a ser, oficialmente, o "xerife" de todos os agentes do mercado de pagamentos eletrônicos e não apenas dos bancos. A Medida Provisória nº 615, publicada no Diário Oficial da União, deu poder à autoridade monetária para regulamentar e fiscalizar, entre outras, empresas como as bandeiras de cartões (Visa e MasterCard, por exemplo) ou as credenciadoras de pagamentos eletrônicos (como Cielo e Redecard). Paralelamente, a MP também lançou as primeiras bases legais para o desenvolvimento dos pagamentos móveis, via dispositivos como o celular.
"Faltava ao BC esse mandato legal de regulamentar o setor de credenciamento de lojistas", afirmou o diretor de política monetária do Banco Central (BC), Aldo Mendes, em entrevista coletiva sobre a medida. "Havia uma assimetria de regulamentação. Com a MP, o BC normatiza não apenas um lado do mercado [as instituições financeiras que emitem os cartões]."
A própria autoridade monetária já havia sinalizado, no ano passado, que ampliaria o escopo de sua supervisão sobre o setor de cartões. A questão agora é quão profunda será a interferência do BC nesse mercado. Em 180 dias, o Conselho Monetário Nacional (CMN) deve publicar a regulamentação da medida, podendo realizar consulta pública sobre os atos normativos que serão editados. O Congresso tem até 120 dias para apreciar uma MP.
Segundo Mendes, a autoridade vai encaminhar uma proposta ao CMN definindo quais arranjos de pagamento têm importância sistêmica e, portanto, serão regulados pelo BC. Por "arranjos de pagamentos", entenda-se a série de procedimentos montados entre bancos emissores de cartões, bandeiras, credenciadores, lojistas e consumidores que regem o funcionamento do mercado de pagamentos eletrônicos.
Mendes afirmou que em alguns desses "arranjos", não é necessária uma regulação tão pesada. É o caso, por exemplo, dos cartões de lojas ("private label", em inglês) e as moedas sociais, situações em que não há importância sistêmica. "São meios restritos a um ambiente pequeno", afirmou.
Com os poderes que ganhou na medida, o BC poderá, se julgar necessário, regular também atuação de operadoras de telefonia em pagamentos eletrônicos, as empresas que oferecem vales-refeições e outras companhias não-financeiras que atuam em cartões, como as administradoras de cartões pré-pagos.
Isso significa que a autoridade passa a ser capaz de aprofundar a abertura do mercado de cartões, iniciada em 2010, com o fim das exclusividades de captura entre Cielo/Visa e Redecard/MasterCard. Em outubro do ano passado, o próprio Aldo Mendes pressionou pelo fim dos acordos exclusivos de captura remanescentes entre credenciadoras e empresas de vale-alimentação. Hoje, por exemplo, os vales da Alelo (antiga Visa Vale) só são capturados pela Cielo. A MP também dá poderes para que o BC possa intervir sobre taxas como as que as credenciadoras cobram de lojistas, entre outras tarifas.
A MP 615 também muda a regulamentação do sistema de pagamentos brasileiro para incluir oficialmente a possibilidade de empresas de telecomunicações oferecerem serviços de "mobile payment" (pagamentos por meio de dispositivos móveis, como celulares). As quatro maiores operadoras de telefonia do país já têm algum tipo de produto na área de pagamentos móveis, seja cartão de crédito ou pré-pago. Claro, Tim e Oi têm parcerias com bancos. Já a Vivo /Telefônica tem com a Mastercard uma "joint-venture".
Segundo o texto da medida, o BC, o CMN, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) serão responsáveis por "adotar medidas de incentivo ao desenvolvimento de arranjos de pagamento que utilizem terminais de acesso aos serviços de telecomunicações de propriedade do usuário". O objetivo da autoridade, expresso na medida, é avançar no processo de inclusão financeira no Brasil.
O Ministério das Comunicações reforçou essa meta. O secretário de telecomunicações da pasta, Maximiliano Martinhão, disse, em entrevista coletiva, que a intenção do governo é usar a capilaridade das empresas do setor para ampliar a oferta de serviços financeiros a uma parte da população brasileira que não tem acesso a bancos. "Essa é uma agenda importante para o país porque permitirá que um número grande de pessoas alheias ao sistema financeiro possa ter acesso a meios de pagamentos eletrônicos", afirmou.
O secretário avaliou que a população brasileira está preparada para essa tecnologia. Os pagamentos via celulares, segundo ele, serão tão fáceis como enviar um SMS. Atualmente, são enviados 260 milhões de SMS por dia, segundo Martinhão.
Mendes, do BC, reforçou que a MP permite que empresas não-financeiras façam parte do universo de pagamentos móveis. Tanto que a medida cria a "conta de pagamento móvel", que será uma espécie de conta corrente eletrônica para os clientes de pagamentos móveis. As tais "contas de pagamento" não se confundem com contas bancárias e não dependem delas para ser abertas junto a instituições que vão tornar disponível o novo serviço. O dinheiro depositado nessas contas eletrônicas será apartado dos ativos próprios da empresa, não podendo ser oferecido em garantia de nenhuma operação e ficando fora da massa falida em caso de liquidação.
Não há ainda previsão de uma garantia individual aos portadores da "contas de pagamento". Em princípio, elas não são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) porque não são contas bancárias, mas o BC estuda maneiras de criar tais seguranças.
"Faltava ao BC esse mandato legal de regulamentar o setor de credenciamento de lojistas", afirmou o diretor de política monetária do Banco Central (BC), Aldo Mendes, em entrevista coletiva sobre a medida. "Havia uma assimetria de regulamentação. Com a MP, o BC normatiza não apenas um lado do mercado [as instituições financeiras que emitem os cartões]."
A própria autoridade monetária já havia sinalizado, no ano passado, que ampliaria o escopo de sua supervisão sobre o setor de cartões. A questão agora é quão profunda será a interferência do BC nesse mercado. Em 180 dias, o Conselho Monetário Nacional (CMN) deve publicar a regulamentação da medida, podendo realizar consulta pública sobre os atos normativos que serão editados. O Congresso tem até 120 dias para apreciar uma MP.
Segundo Mendes, a autoridade vai encaminhar uma proposta ao CMN definindo quais arranjos de pagamento têm importância sistêmica e, portanto, serão regulados pelo BC. Por "arranjos de pagamentos", entenda-se a série de procedimentos montados entre bancos emissores de cartões, bandeiras, credenciadores, lojistas e consumidores que regem o funcionamento do mercado de pagamentos eletrônicos.
Mendes afirmou que em alguns desses "arranjos", não é necessária uma regulação tão pesada. É o caso, por exemplo, dos cartões de lojas ("private label", em inglês) e as moedas sociais, situações em que não há importância sistêmica. "São meios restritos a um ambiente pequeno", afirmou.
Com os poderes que ganhou na medida, o BC poderá, se julgar necessário, regular também atuação de operadoras de telefonia em pagamentos eletrônicos, as empresas que oferecem vales-refeições e outras companhias não-financeiras que atuam em cartões, como as administradoras de cartões pré-pagos.
Isso significa que a autoridade passa a ser capaz de aprofundar a abertura do mercado de cartões, iniciada em 2010, com o fim das exclusividades de captura entre Cielo/Visa e Redecard/MasterCard. Em outubro do ano passado, o próprio Aldo Mendes pressionou pelo fim dos acordos exclusivos de captura remanescentes entre credenciadoras e empresas de vale-alimentação. Hoje, por exemplo, os vales da Alelo (antiga Visa Vale) só são capturados pela Cielo. A MP também dá poderes para que o BC possa intervir sobre taxas como as que as credenciadoras cobram de lojistas, entre outras tarifas.
A MP 615 também muda a regulamentação do sistema de pagamentos brasileiro para incluir oficialmente a possibilidade de empresas de telecomunicações oferecerem serviços de "mobile payment" (pagamentos por meio de dispositivos móveis, como celulares). As quatro maiores operadoras de telefonia do país já têm algum tipo de produto na área de pagamentos móveis, seja cartão de crédito ou pré-pago. Claro, Tim e Oi têm parcerias com bancos. Já a Vivo /Telefônica tem com a Mastercard uma "joint-venture".
Segundo o texto da medida, o BC, o CMN, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) serão responsáveis por "adotar medidas de incentivo ao desenvolvimento de arranjos de pagamento que utilizem terminais de acesso aos serviços de telecomunicações de propriedade do usuário". O objetivo da autoridade, expresso na medida, é avançar no processo de inclusão financeira no Brasil.
O Ministério das Comunicações reforçou essa meta. O secretário de telecomunicações da pasta, Maximiliano Martinhão, disse, em entrevista coletiva, que a intenção do governo é usar a capilaridade das empresas do setor para ampliar a oferta de serviços financeiros a uma parte da população brasileira que não tem acesso a bancos. "Essa é uma agenda importante para o país porque permitirá que um número grande de pessoas alheias ao sistema financeiro possa ter acesso a meios de pagamentos eletrônicos", afirmou.
O secretário avaliou que a população brasileira está preparada para essa tecnologia. Os pagamentos via celulares, segundo ele, serão tão fáceis como enviar um SMS. Atualmente, são enviados 260 milhões de SMS por dia, segundo Martinhão.
Mendes, do BC, reforçou que a MP permite que empresas não-financeiras façam parte do universo de pagamentos móveis. Tanto que a medida cria a "conta de pagamento móvel", que será uma espécie de conta corrente eletrônica para os clientes de pagamentos móveis. As tais "contas de pagamento" não se confundem com contas bancárias e não dependem delas para ser abertas junto a instituições que vão tornar disponível o novo serviço. O dinheiro depositado nessas contas eletrônicas será apartado dos ativos próprios da empresa, não podendo ser oferecido em garantia de nenhuma operação e ficando fora da massa falida em caso de liquidação.
Não há ainda previsão de uma garantia individual aos portadores da "contas de pagamento". Em princípio, elas não são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) porque não são contas bancárias, mas o BC estuda maneiras de criar tais seguranças.